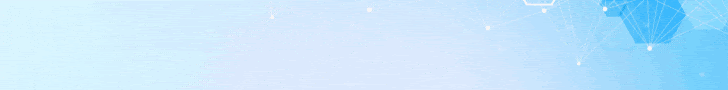Félix Valois
Desde 1961, mal saído dos dezessete anos, eu perambulo pelas redações dos jornais de Manaus. Primeiro foi em O Jornal e Diário da Tarde, de propriedade da família Archer Pinto. Era ali na Eduardo Ribeiro, em prédio hoje engolfado e demolido pela especulação imobiliária. Arnoldo Coimbra, esse grande tributarista que orgulha a advocacia amazonense, foi quem me introduziu nos meandros da atividade. Nossa função primária, minha e dele, era colocar os textos recebidos pelos telegrafistas em linguagem legível e pronta para publicação, e, por isso, recebíamos o apelido de “tradutor de telegramas”. Telegrama, para os mais jovens, era um sistema de comunicação à distância em que, utilizando o código Morse (pontos e traços), fazia-se a transmissão de textos. Longínquo precursor do e-mail e do zapzap. Depois, fomos para a reportagem em si mesma e aí era o périplo constante pelas delegacias de polícia e pelas casas legislativas, à cata do que pudesse ser notícia.
Ganhávamos pouco, muito pouco, mas era divertido. O ambiente era de descontração absoluta. Não era raro que a própria dona Lourdes Archer Pinto, uma das donas da empresa, estivesse presente na redação, apesar de esta ficar a mil anos luz da mais modesta ideia de luxo ou conforto. Ar refrigerado, nem pensar. Quando muito, um enorme ventilador de parede minorava o calor manauara e tentava afastar o cheiro de chumbo que vinha das máquinas da oficina, localizada logo abaixo. Era prazeroso ouvir as peripécias narradas por Oscar Carneiro, veterano e espirituoso jornalista, que sabia como ninguém divulgar um fato, por mais trivial que fosse, de forma a atrair e prender a atenção do leitor.
Na chefia da redação (o título era “secretário”), Irisaldo Godot que, com paciência beneditina, revisava textos, supervisionava a diagramação e ainda encontrava tempo para sua paixão nunca escondida, o futebol, tanto que foi um dos membros da comissão incumbida de coordenar a construção do estádio Vivaldo Lima, hoje demolido criminosamente. Almir Diniz já era um ícone e todos nos orgulhávamos de ver seu nome na placa de bronze que, da parede, indicava ter ele ganho nada menos que um Prêmio Esso de Reportagem, espécie de Oscar do jornalismo de então. A equipe contava ainda com a determinação e a dedicação de Milton de Magalhães Cordeiro, cria da casa e que ainda hoje milita no ramo, juntamente com Phellipe Daou, já àquela altura advogado, ambos sempre lhanos, afáveis e prontos a ajudar os mais jovens. Sem esquecer José Roberto Cavalcante, que fora orador da turma do cinquentenário da Faculdade de Direito, e um outro proprietário, Aloísio Archer Pinto, em quem não se via a postura do patrão, por isso que era antes um amigo.
Depois, já formado, veio a experiência no jornal A Crítica, onde se destacava a figura imensamente humana de Umberto Calderaro Filho. A seu pedido, incumbi-me de redigir os editoriais do diário que dirigia e posteriormente ele me cedeu espaço para uma coluna semanal e assinada, que, uma vez datilografada era levada pessoalmente à redação. A internet nem sonhava em existir. Na função de editorialista, lembro-me de um episódio que traceja com vigor e claramente a personalidade e o comportamento de “seu Umberto”, como todos os chamávamos. Foi em 1968, quando a ditadura militar escandalizou a Nação, editando o nefando Ato Institucional número 5. Era triste, era lamentável, mas era um fato. Por mim mesmo, tinha eu posicionamento definido sobre a tragédia, mas não podia confundir meu sentimento com a posição do jornal. Fui a ele e perguntei como deveria orientar o editorial do dia seguinte. A resposta foi emblemática e veio mais ou menos nestes termos: “Valois, A Crítica nunca esteve ao lado da repressão. Temos que noticiar o acontecido, mas não vamos dar confiança de emitir opinião a respeito”.
Passei também por A Notícia, ali convivendo com a simpática figura de Andrade Neto. Também lá me foi dado espaço para uma coluna semanal, que publiquei durante anos sob o título Alternativa. No Jornal do Comércio, com a cordialidade de Guilherme Aloísio e de Plínio Valério, respectivamente dono e secretário, tive o ensejo de me responsabilizar por uma coluna de notas curtas, de interesse imediato.
O Jornal do Norte teve existência efêmera, mas seu titular, Paulo Girardi, a quem nunca conheci pessoalmente, também me acolheu. Depois, veio O Estado do Amazonas, onde, mesmo vencida a ditadura, sofri a mais dura decepção em tantos anos de imprensa. É que seu dono, o doutor Francisco Garcia, simplesmente censurou e vetou um texto meu, sem me dar qualquer explicação ou satisfação. Claro que deixei de escrever ali. Nada parecido com os tempos, quase simultâneos, do Correio Amazonense, onde Amazonino Mendes sempre nos deu a mais ampla liberdade de expressão. Finalmente agora, por gentileza de Cirilo e Ciro Anunciação, estou neste Diário do Amazonas . Continuo pensando e escrevendo. Nada que nem de longe chegue aos pés dos trabalhos de Ribamar Bessa ou Paulo Figueiredo, mas, pelo menos, posso dizer o que sinto, como, por exemplo, esta reflexão: de que jeito consegui concluir este texto, se quando abri o computador, não tinha a mínima ideia de sobre o que escrever? Coisas do ofício.